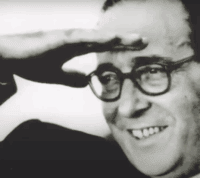A reabertura de um tema fechado ao diálogo
Um dos méritos pelo qual será recordado o pontificado do Papa Francisco será o da abertura de uma cultura sinodal e de diálogo na Igreja. Ainda é cedo para fazer uma avaliação desta estratégia ou para conhecer os seus frutos, mas é tempo de mapear e avaliar uma das discussões mais relevantes promovida nesse contexto: a do lugar das mulheres na Igreja.
O Papa Francisco deu alguns passos concretos no sentido de uma maior igualdade. Primeiro, com a eliminação, em Janeiro de 2021, da expressão “do sexo masculino” do cânone 230 do Código de Direito Canónico, para pôr fim à discriminação em função do sexo no que toca ao acesso aos ministérios de leitor e acólito. E, depois, com a abertura da presidência dos Dicastérios e outros Organismos eclesiais às mulheres, em Março de 2022.
Não ficou por aí, todavia, tendo, entre dezembro de 2023 e junho de 2024, promovido ele próprio quatro encontros para discussão do papel da mulher na Igreja e da possibilidade de abertura do diaconado feminino. Estes encontros deram origem a quatro publicações, apenas a primeira com edição e tradução em português: Desmasculinizar a Igreja?. As restantes edições encontram-se disponíveis tão-só em língua italiana: Donne e Ministeri nella Chiesa Sinodale; Donne e Uomini: Questione di Culture; e Il Potere e la Vita (doravante estes serão identificados como livro I, II, III ou IV, respetivamente). [Ver Nota 1]
A abertura deste diálogo pode não parecer um grande passo. Mas na verdade é. Sobretudo quando se tem em conta que este debate, tendo sido iniciado dentro da igreja no século XIX e retomado durante o Concílio Vaticano II, se encontrava encerrado por vontade expressa do Papa João Paulo II, tendo este introduzido normas no Código de Direito Canónico para aplicação de sanções para quem não aceitasse aquilo “que é proposto de maneira definitiva pelo magistério da Igreja em matéria de fé e costumes”.
Cada um dos livros acima identificados tem o prefácio do Papa Francisco, sendo interessante constatar a evolução do seu pensamento a este respeito. Se no primeiro deles, ainda que avançando com a expressão “desmasculinizar a Igreja”, se coloca numa postura de escuta e abertura atenta, no último deles, afirma com mais confiança: “estou agora mais convencido que o masculinismo é uma realidade contrária ao Evangelho” e “não creio que haja coisas que só possam ser feitas por homens ou por mulheres”.
Os argumentos do diálogo
A leitura dos livros acima identificados mostra que o debate foi sério, não se escusando a avaliar o tema nas suas dimensões fundamentais.
Com uma riqueza de argumentos, os participantes nestes livros procuram tornar cristalino que as mulheres não têm de se bastar mais com a afirmação frequentemente repetida – baseada no argumento de autoridade – em relação à ordenação sacerdotal: “Não se pode fazer” (Linda Pocher, livro III).
O argumento que preside à reserva para os homens das funções sacerdotais, como bem explicado pelo Papa Paulo VI, em 1977, funda-se no facto de Cristo ter constituído a sua Igreja com base na sua antropologia teológica e de esta ter sido seguida pela tradição (“a verdadeira razão é que Cristo, ao dar à Igreja a Sua fundamental constituição, a sua antropologia teológica, depois sempre seguida pela Tradição da mesma Igreja, assim o estabeleceu”). Este argumento foi repetido pelo Papa João Paulo II, em 1988: “Se Cristo, instituindo a Eucaristia, a ligou de modo tão explícito ao serviço sacerdotal dos apóstolos, é lícito pensar que dessa maneira ele queria exprimir a relação entre homem e mulher, entre o que é «feminino» e o que é «masculino», querida por Deus, tanto no mistério da criação como no da redenção”.
Nos livros acima identificados, os autores contrariam o argumento de que a divisão das funções em função do sexo assenta na vontade de Cristo com duas razões fundamentais. Por um lado, invocando que a divisão de tarefas não foi intencionalmente desejada por Cristo, que questionava as formas de autoridade e de poder (Linda Pocher, livro III). E, por outro, destacando o facto de esta não corresponder àquela que é descrita pelos atos dos apóstolos (os primeiros tempos da igreja), colocando ao serviço da evangelização mulheres e homens numa relação paritária e não de subordinação. Neste sentido, a Bispa anglicana Jo B. Wells, no livro II, ao descrever o enquadramento teológico que na sua igreja conduziu em 1975 ao levantamento das objeções fundamentais à ordenação diaconal de mulheres, nota que, na Carta aos Romanos, Febe é assumida como diaconisa e Júnia chamada de apóstola. Esta Bispa sublinha até que “hoje, nas várias tradições e províncias da Comunhão Anglicana, mesmo entre aqueles que se opõem à ordenação sacerdotal e episcopal de mulheres, raramente se discute se elas podem ser ordenadas diaconisas”.
Invocam, em acréscimo, que a divisão de tarefas entre homens e mulheres estabelecida na Igreja, e sobre a qual esta assentou a sua tradição, se fundou na necessidade prática de a Igreja encontrar aceitação, nos primeiros tempos de expansão, em meios mais avessos ao reconhecimento das mulheres. Recorde-se, como Linda Pocher assinala no livro III, que a filosofia antiga dominante foi muito influenciada pelo pensamento aristotélico que menorizava a mulher em relação ao homem (“[…] a fêmea é como se fosse um macho deformado” – Aristóteles in De Generationem Animalium, livro II, secção 3 (737a)). Sendo certo que este pensamento acabou por ser absorvido pela cultura eclesial até ao século XX, é todavia de notar que o Papa João XXIII, em 1963, não deixou de assinalar como um dos sinais dos tempos “o ingresso da mulher na vida pública”, vendo nela um sinal da evolução “da sociedade humana para um padrão social e político completamente novo”.
Para Lucia Vantini, no livro I, a manutenção de um status quo que aceita uma divisão com base no sexo, num tempo em que o entendimento sobre as mulheres e o seu papel na sociedade mudou, “surge apenas como desculpa para justificar no céu aquilo que acontece na terra”, favorecendo comportamentos clericais de controlo e manipulação. Comportamentos estes impeditivos de que a Igreja assuma uma perspetiva de diversidade, baseada na identidade batismal e na filiação divina.
Para Lucia Vantini, a manutenção de um status quo que aceita uma divisão com base no sexo, num tempo em que o entendimento sobre as mulheres e o seu papel na sociedade mudou, “surge apenas como desculpa para justificar no céu aquilo que acontece na terra”, favorecendo comportamentos clericais de controlo e manipulação.
A juntar a estes argumentos, os vários autores aduzem ainda argumentos bíblicos que dão nota de que não existe uma vontade de Deus, inequivocamente expressa, que impeça o acesso das mulheres a funções de chefia da Igreja ou, até mesmo, sacerdotais. A este respeito, no livro I, Luca Castiglioni recorda que o respeito e a amizade entre homens e mulheres realizam “o sonho do Criador evocado no Génesis” e Lucia Vantini e Linda Pocher ressaltam o facto de as mulheres serem, em várias passagens da Bíblia, protagonistas da história da Salvação; de serem elas as anunciadoras da Ressurreição; de também elas, no Pentecostes, receberem o Espírito Santo; e de, nas Cartas de S. Paulo, serem reconhecidas como membros ativos da Igreja.
Os argumentos culturais não ficam esquecidos. Sustentando que, a operar-se uma mudança, esta não seria a primeira motivada pela necessidade de adaptação da Igreja às circunstâncias do seu tempo, Linda Pocher recorda, a este propósito, as várias mudanças da Igreja ao longo do tempo: o êxodo, a passagem da clandestinidade ao reconhecimento público com Constantino, a reforma gregoriana, e a contra-reforma que se seguiu à reforma protestante. Tudo isto para dizer que a Igreja não pode deixar de responder aos desafios do pós-cristianismo e de dialogar com a realidade do tempo que nos é dado habitar, assumindo mesmo que “Deus deixa traços de Si mesmo na cultura” (livro III).
Somando a estes, são ainda expostos argumentos económicos e jurídicos, justificativos da urgência da alteração do estatuto da mulher na Igreja, acentuando o papel da mesma no tratamento modelar das mulheres em respeito à sua dignidade humana. A esta luz, a Igreja tem o dever moral de prestar o devido reconhecimento ao trabalho das mulheres, pondo termo a uma cultura de aproveitamento económico das vocações. Deve ainda assumir um corte com práticas perpetuadoras (ou até mesmo amplificadoras) das desigualdades económicas e sociais que hoje afetam as mulheres e que são causa de grande fragilidade individual. Como sustenta Valentina Rotondi no livro IV, não é mais admissível que a Igreja acrescente discriminação à já existente, expressa seja sobre a disparidade salarial entre homens e mulheres (gender pay gap), tão bem conhecida no mundo ocidental, seja sobre o fenómeno das “mulheres em falta” (missing women), descrito por Amartya Sen, representando o número de mulheres não nascidas ou precocemente mortas, devido à discriminação de género.
Divergências quanto ao caminho a seguir pela Igreja
O diálogo que se estabeleceu não esconde, na sua riqueza, que há divergências no que toca à forma como a Igreja deve realizar a igualdade.
Elas são claramente explicitadas no livro II desta coleção, pela pena dos Cardeais Sean O’Malley e Jean-Claude Hollerich sj, os quais, sem negar a necessidade de reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres na Igreja, se manifestam contra a aceitação do diaconado e sacerdócio feminino.
A principal objeção levantada quanto a esta aceitação prende-se com a constatação de que este não seria aceite universalmente. Tomando como exemplo a Igreja anglicana, que não aceita plenamente a ordenação feminina, o Cardeal Sean O’Malley sustenta que a Igreja “não se pode dar ao luxo de cometer erros agindo precipitadamente ou sem considerar as possíveis consequências dessas mudanças”. Sugere. por isso, não obstante reconhecer que existiu nos primeiros tempos da Igreja um diaconado feminino paralelo ao masculino, que a solução para maior integração das mulheres passe por ter o cuidado de “não clericalizar os leigos”, mas sim de promover o aumento da sua participação na Igreja.
O Cardeal Claude Hollerich sj, pega no mesmo argumento da universalidade e carrega nas tintas, alertando para que a ordenação das mulheres conduzirá inevitavelmente a um cisma: “Parece-me muito difícil, se não impossível, que a essência do ensinamento, a essência da própria estrutura da Igreja, possa ser diferente de continente para continente ou de Igreja local para Igreja local”. Chama ainda a atenção para que a ordenação de mulheres pode travar o encontro que tem sido feito desde o tempo do Papa Paulo VI em relação às Igrejas Ortodoxas (“A ordenação de mulheres não interromperia esse processo de forma destrutiva, apagando repentinamente as reaproximações que ocorreram nas últimas décadas?”).
Para este Cardeal, a Igreja Católica não deve, cedendo ao espírito do tempo, prescindir de fazer o seu próprio caminho no caminho da igualdade. Avisa por isso que “um longo discernimento aguarda a Igreja”.
As perspetivas que se abrem
Os frutos deste diálogo são incertos. Sobretudo, após a morte do Papa Francisco.
Parece, no entanto, que uma vez aberta, esta porta é difícil de fechar. Os argumentos esgrimidos não se compadecem com a manutenção de uma Igreja que, querendo ser o farol moral da humanidade, insista na marginalização das mulheres. Sobretudo quando aquilo que a prende à tradição é refutável no plano argumentativo.
Parece que, uma vez aberta, esta porta é difícil de fechar. Os argumentos esgrimidos não se compadecem com a manutenção de uma Igreja que, querendo ser o farol moral da humanidade, insista na marginalização das mulheres. Sobretudo quando aquilo que a prende à tradição é refutável no plano argumentativo.
Do diálogo estabelecido parece, todavia, possível retirar, desde já, um consenso – confirmado pelas respostas dos Cardeais no livro II e pelos avanços conseguidos pelo Papa Francisco no plano da igualdade, sem levantamento de objeções – em relação a uma melhor articulação entre os elementos simbólico e estrutural da Igreja, de forma a criar uma estrutura mais inclusiva.
Olhando para o futuro, percebe-se que estamos perante uma encruzilhada, que poderá fazer avançar a Igreja ou num sentido mais conservador ou num sentido mais transformador.
Num sentido mais conservador, a Igreja poderá manter a ordenação fechada a mulheres, multiplicando, na sua estrutura e na liturgia, lugares e oportunidades para o exercício da participação feminina. Num sentido mais transformador, a Igreja poderá iniciar um caminho de mudança estrutural, no sentido de uma maior repartição do poder entre todos os batizados (substituindo, quem sabe, o modelo hierárquico por um modelo poliédrico de poder, como propõe Donata Horak no livro IV).
O diálogo e os argumentos discutidos nos livros acima mencionados mostram, contudo, que não é justo exigir, num ou noutro sentido, uma mudança profunda num plano imediato. Implicando riscos, qualquer mudança exigirá discernimento e formação de consensos. Numa reformulação mais profunda do modelo de Igreja, esta implicará alterações à própria estrutura, ao modo de ler e interpretar a Bíblia e ainda ao modo de entender a Teologia. Tudo isto exigirá tempo.
Caminhar no sentido da igualdade – o Papa Francisco admitiu-o – intimida. Requer também, nas suas palavras, “paciência, respeito mútuo, escuta e abertura para realmente aprender uns com os outros e avançar como um só Povo de Deus, rico em diferenças, mas caminhando juntos” (prefácio ao livro I).
No prefácio ao livro III, o Papa Francisco não deixou de alertar para as estratégias de resistência à mudança que podem ser utilizadas para impedir qualquer avanço no sentido da igualdade: o adiamento de decisões para um futuro indefinido; o silêncio como resposta às reivindicações de mais igualdade; a promoção de debates sem fim à vista; a multiplicação de burocracia necessária para operar mudanças; ou, ainda, a tentativa de eliminação de ideias ou de provocar cansaço a quem pede mais igualdade.
Honrar o legado do Papa Francisco passará, neste tema, por lutar contra estas estratégias de resistência e sonhar com uma Igreja desmasculinizada e igualitária.
Nota 1: O livro «Mulheres e ministérios na Igreja sinodal» será lançado em português, no próximo mês de maio, pelas Paulinas. No final de 2025 é esperada a publicação de um outro volume da série, cuja edição portuguesa se concluirá em 2026, com o último dos quatro livros.
* Os jesuítas em Portugal assumem a gestão editorial do Ponto SJ, mas os textos de opinião vinculam apenas os seus autores.