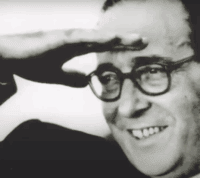Há mais de oito séculos, Francisco, numa localidade próxima de Assis e diante da Cruz de São Damião, ouviu uma voz que parecia chamá-lo e que lhe dizia: “Vai, Francisco, e reforma a minha Igreja.” Interpretando essa voz, Francisco reconstruiu a Porciúncula, uma pequena igreja abandonada e em ruínas. Todavia, mais tarde, percebe que a restauração se referia à Igreja universal. Na verdade, no nome ‘Francisco’ podemos traduzir e sintetizar o último pontificado: um modus vivendi concreto e real, não só pregado mas vivido pelo próprio Papa, que é proposto à Igreja e, mutatis mutandis, à sociedade em geral.
Já muito se escreveu acerca da escolha do nome Francisco que Bergoglio fez em 2013 e da forma como esta escolha ganhou uma dimensão constitutiva dos seus doze anos de pontificado. Francisco procurou “uma Igreja pobre e para os pobres.” Neste artigo, contudo, queremos sublinhar um outro aspeto do nome Francisco: o movimento reformista que nasce de um profundo amor à Igreja, quer da parte de Francisco de Assis, quer do próprio Papa Francisco, e que se traduz numa visão de Igreja muito concreta. Mais do que discutir o pontificado do último Papa à luz de categorias políticas como conservador/progressista – que nos parecem insuficientes, tanto a nível eclesial, como para analisar o contexto geopolítico atual – desejamos ensaiar um outro ponto de partida. Neste artigo, propomo-nos refletir sobre o significado e valor do princípio Ecclesia semper reformanda e de como entender este princípio à luz da tensão entre unidade e pluralidade que caracteriza a Igreja Católica.
Parece-nos que esta reflexão se reveste da maior importância, em vésperas da eleição de um novo Papa, por causa dos rumores (e até acusações) acerca de divisões, possibilidade de cismas, relativismo e questões sobre a identidade da Igreja que têm preenchido as páginas de muitos jornais – e sobretudo as ‘manchetes’ das diversas redes sociais – na análise que fazem do pontificado de Francisco e do futuro da Igreja.
No artigo publicado recentemente no The New York Times, Antonio Spadaro, sj discute o peso político que as palavras ‘unidade’ e ‘diversidade’ podem ter: a primeira como a bandeira dos ditos ‘conservadores’ e, por consequência, a segunda como a proposta dos ditos ‘progressistas’. O sub-secretário do Dicastério para a Cultura e Educação explica, no artigo, que o Papa Francisco procurou habitar de forma inteligente esta tensão entre unidade e diversidade, tentando libertar a Igreja de uma ideia de unidade cristalizadora, mas assegurando ao mesmo tempo que a diversidade não se precipitasse numa dispersão, pelo facto de a Igreja não estar ainda preparada para dar determinados passos. Para Spadaro, algumas das ambiguidades ou impasses apontados a Francisco, como por exemplo, o facto de se abrir a falar sobre determinados temas (e.g. a ordenação presbiteral de homens casados, a não condenação das pessoas homossexuais e o reconhecimento de algum bem nas uniões entre pessoas do mesmo sexo, a importância das mulheres na vida da Igreja) sem que isso tenha sido acompanhado de mudanças estruturais na doutrina ou na disciplina da Igreja, são a manifestação do desejo de Francisco de querer habitar a tensão de, por um lado, abrir e questionar assuntos acerca do mundo e da condição humana que pareciam encerrados dentro da Igreja e, por outro, de que as respostas a estes processos possam resultar de um caminho feito em comum dentro da Igreja.
Um dos aspetos que sublinha Spadaro e que nos parece, de facto, importante, apesar de pouco discutido, tem que ver com a decisão do Papa Francisco em relação às Igrejas do continente africano, no que diz respeito as bênçãos de uniões de pessoas do mesmo sexo, definindo-o como um caso especial, atendendo às especificidades culturais desse continente. Mais do que voltar atrás, esta decisão legitima a pluralidade pastoral, revelando que a pluralidade não é contrária à unidade. De que forma esta decisão nos pode iluminar no desafio de habitar esta tensão entre unidade e pluralidade, que necessariamente parte de uma Igreja que se autocompreende como Povo de Deus em caminho (Lumen Gentium n. 9) e não tanto a partir do modelo de uma societas perfectas?
De que forma esta decisão nos pode iluminar no desafio de habitar esta tensão entre unidade e pluralidade, que necessariamente parte de uma Igreja que se autocompreende como Povo de Deus em caminho (Lumen Gentium n. 9) e não tanto a partir do modelo de uma societas perfectas?
1. Unidade e Pluralidade: tensão criativa
A pluralidade não constitui uma deriva “modernista” da Igreja. Se abrirmos os Atos dos Apóstolos, podemos verificar que esta tensão está, aliás, na génese da Igreja. No primeiro Concílio da Igreja em Jerusalém (Atos 15) deparamo-nos com um momento hermenêutico essencial para a compreensão da Igreja e da sua missão. Na altura, discutia-se a observância da lei de Moisés e o acolhimento de gentios incircuncisos na ecclesia. Sabemos hoje, quase dois mil anos depois, o impacto dessa decisão. De algum modo, este evento oferece uma gramática essencial para autocompreensão da Igreja, à qual subjaz um constante dinamismo: a articulação da fé no tempo presente depende de uma abertura e diálogo com a realidade, e é nesse dinamismo que a Igreja aprofunda a sua autocompreensão. O próprio Catecismo da Igreja Católica (CIC) no seu número 814 reconhece que a pluralidade é constitutiva da Igreja: “Entre os membros da Igreja existe uma diversidade de dons, de cargos, de condições e de modos de vida (…) a grande riqueza desta diversidade não se opõe à unidade da Igreja.”
Para entender o sentido de um movimento reformista ou do que significa uma Igreja semper reformanda, isto é, em processo contínuo de reforma e, portanto, não avessa à mudança, é fundamental desconstruir a dicotomia entre unidade e diversidade. O contrário de pluralidade não é a unidade, mas a uniformidade. E o contrário da unidade não é a pluralidade, mas a divisão.
A este propósito – da pluralidade, da unidade, e da divisão – cita-se com frequência a seguinte passagem de Orígenes: “Onde há pecado, aí se encontra a ‘divisão,’ o cisma, a heresia, o conflito. Mas onde há virtude, aí se encontra a unicidade e aquela união que faz com que todos os crentes tenham um só coração e uma só alma.” (Cf. CIC, n.º 817). Todavia, a expressão “onde há pecado, há divisão” é, muitas vezes, usada para dissuadir vozes que não se reveem num determinado aspeto da doutrina que não seja dogma ou na posição de uma determinada maioria. Ora, de acordo com Orígenes, o pecado antecede a divisão; a divisão é um sintoma de um problema maior, mais grave. A citação provém de uma homilia do teólogo de Alexandria sobre o profeta Ezequiel, nomeadamente sobre Ez 16, 49, que descreve o pecado de Sodoma como o pecado do orgulho, da soberba e da autossuficiência. De acordo com a tradição da Igreja, é na soberba que está a raiz de todos os pecados e, de facto, na parábola do Pai misericordioso (Lc 15, 11-32) esse parece ser o pecado do filho mais velho que, embora cumprisse a lei, foi incapaz de se juntar à festa que o Pai organizou para celebrar o regresso do filho mais novo, cuja conduta moral teria sido, alegadamente, abjeta.
Para entender o sentido de um movimento reformista ou do que significa uma Igreja semper reformanda, isto é, em processo contínuo de reforma e, portanto, não avessa à mudança, é fundamental desconstruir a dicotomia entre unidade e diversidade. O contrário de pluralidade não é a unidade, mas a uniformidade. E o contrário da unidade não é a pluralidade, mas a divisão.
Ao descrever a divisão como resultado do pecado da soberba, Orígenes fala-nos do perigo da autossuficiência, de nos fecharmos sobre nós próprios, de nos enchermos de nós mesmos, de nos arrogarmos de (pretender) possuir a verdade sobre Deus e os outros. O pecado da soberba – mesmo que revestido de aparência de defesa da “verdade” – conduz à divisão, arrastando consigo a falta de misericórdia e de humildade e a incapacidade de escuta. Quando nos assumimos como detentores da verdade, qual bloco monolítico que lançamos sobre o mundo e as pessoas, negamos a possibilidade de diálogo e de encontro.
A este propósito, será importante referir o fantasma de um possível ‘cisma’ na Igreja Católica que, nos últimos dias, tem assomado novamente nalguns fóruns. Parece-nos que este medo excessivo pela desintegração da Igreja – que aparece sobretudo quando se toca em temas ligados ao ensinamento da Igreja sobre sexualidade – está claramente ligado à ideia de que a unidade da Igreja requer a defesa de uma verdade uniforme e de que qualquer abertura à realidade constitui uma forma de relativismo. Atendendo ao exposto, podemo-nos questionar: esta defesa de uma verdade imutável e uniforme no âmbito da conceção cristã da sexualidade humana, não estará a conduzir a Igreja a uma divisão silenciosa? Não será importante procurar compreender o cisma silencioso, mas muito mais pervasivo, daqueles que, ao longo das últimas décadas, têm abandonado a Igreja pelo facto de a sentirem, no que toca a estas matérias, mais como alfândega ou tribunal, do que como mãe misericordiosa e rosto do amor compassivo de um Deus, que quer que os seus filhos sejam?
Não será importante procurar compreender o cisma silencioso mas muito mais pervasivo daqueles que, ao longo das últimas décadas, têm abandonado a Igreja pelo facto de a sentirem, no que toca a estas matérias, mais como alfândega ou tribunal, do que como mãe misericordiosa e rosto do amor compassivo de um Deus, que quer que os seus filhos sejam?
A possibilidade de diálogo, escuta e encontro, tanto na Igreja como na própria sociedade, constitui o sonho de Francisco que ficou plasmado sobretudo na sua Encíclica social Fratelli Tutti quando afirmou que “de todos se pode aprender alguma coisa, ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Isto implica incluir as periferias. Quem vive nelas tem outro ponto de vista, vê aspetos da realidade que não se descobrem a partir dos centros de poder onde se tomam as decisões mais determinantes. (…) O que conta é gerar processos de encontro, processos que possam construir um povo capaz de recolher as diferenças, o que implica o hábito de reconhecer, ao outro, o direito de ser ele próprio e de ser diferente.” (FT, 215-218)
Neste sentido, parece-nos fundamental que Igreja procure, acima de tudo, uma atitude de humildade, abertura e escuta a todos e a toda a realidade, associada a uma capacidade de autocrítica, que examine os seus pressupostos, com aquela fineza espiritual capaz de colher as ‘aparências de bem’, para procurar habitar criativamente esta tensão entre unidade e pluralidade.

2. Identidade: de uma lógica ‘heresia vs ortodoxia’ à identidade de uma ortopraxis
O Cardeal alemão Gerhard Müller afirmou que, na escolha do próximo Pontífice, será importante ter em conta que “as categorias teológicas corretas são as que se enquadram na ortodoxia (…) e que se opõem à heresia”. E por isso, o próximo Papa deverá possuir uma “sólida formação teológica e doutrinal, ser equilibrado, não ser autoritário nem frágil, que seja firme, mas capaz de respeitar o outro”.
Reconhecendo a bondade de alguns aspetos destas declarações, e lendo a entrevista no seu conjunto, fica-nos, porém, a questão: mas será verdadeiramente aqui que se joga a identidade da Igreja? De facto, lendo com mais atenção a entrevista, o antigo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé parece identificar todo o diálogo com o mundo atual com a cedência a determinados lobbies ideológicos. Müller sugere que a “força” ou identidade da Igreja reside sobretudo na “defesa da verdade”, e não naquilo a que chama de “cedências ou compromissos”. Este não parece ter sido o foco de Francisco ao procurar colocar o estilo de vida de Jesus, tal como nos é revelado pelos Evangelhos, no centro da vida da Igreja.
Segundo o padre e teólogo alemão Johann Baptist Metz, o que mais caracteriza “a nova forma de viver” dos que seguem Jesus e estão a ele ligados é a atenção (cri)ativa diante da realidade e do sofrimento do outro, incluindo os inimigos. Para este teólogo, a identidade da Igreja revela-se num modus vivendi que caracteriza a ‘ortopraxis’ (isto é, a ação ou a prática reta ou justa) do Reino de Deus à qual, nas nossas vidas e com as nossas vidas, somos chamados a responder. As bem-aventuranças são, na verdade, a descrição desta ‘ortopraxis’, deste modo de estar e de agir que excede a lógica do cumprimento de normas: é esta a graça e a exigência do ser discípulo. Como nota o teólogo norte-americano Stephen Pope, o Papa Francisco entendeu as bem-aventuranças como chave hermenêutica da identidade cristã, tal como ficou plasmado no capítulo III da Exortação Apostólica sobre a santidade no mundo atual Gaudete et Exsultate.
Por conseguinte, olhando à vida de Cristo, a identidade cristã e, consequentemente, a identidade da Igreja não se confundem simplesmente com a defesa de uma verdade que se identifica com confissão de um determinado conjunto de dogmas e doutrinas, nem com a defesa de determinados valores ou ideias filosóficas, ou com o cumprimento de um conjunto de práticas rituais e preceitos. No cerne da identidade da Igreja está o encontro pessoal e comunitário com a pessoa de Jesus ressuscitado e o testemunho credível que deriva desse encontro. Na verdade, a identidade/autoridade de Jesus, enquanto filho amado do Pai, radicava na profunda coerência entre crer, pregar e agir e não tanto na defesa de uma determinada doutrina. Deste modo, como afirmou Francisco, “testemunhar não pode prescindir da coerência entre aquilo em que se acredita, o que se anuncia e o que se vive. Não somos credíveis transmitindo apenas uma doutrina ou uma ideologia, não! Uma pessoa é credível se houver harmonia entre aquilo em que acredita e o que vive. (…) O oposto do testemunho é a hipocrisia” (Audiência Geral 22.03.2023). Assim sendo, a nossa profissão de fé na proclamação do Credo não pode ser dissociada da forma como vivemos a nossa fé no quotidiano e de como acolhemos o próximo. Estas duas dimensões são inseparáveis e compreendem-se e enformam-se mutuamente. Para a fé cristã, o amor a Deus e o amor ao próximo são indissociáveis. A vida sacramental, por exemplo, é fundamental para viver a comunhão em Deus, para recordar e celebrar este legado e reconhecer a presença salvífica de Deus na história. Todavia, desligada da vida concreta e real, pode esvaziar-se, perder vitalidade, correndo o risco de se tornar apenas ou sobretudo uma marca identitária.
No cerne da identidade da Igreja está o encontro pessoal e comunitário com a pessoa de Jesus ressuscitado e o testemunho credível que deriva desse encontro. Na verdade, a identidade/autoridade de Jesus, enquanto filho amado do Pai, radicava na profunda coerência entre crer, pregar e agir e não tanto na defesa de uma determinada doutrina.
Mais do que sublinhar a divisão entre a heresia e a ortodoxia, que parece conceber a identidade da Igreja como algo estático e acabado, parece-nos fundamental procurar compreender mais profundamente a interligação entre escuta da realidade, prática pastoral e elaboração e formulação doutrinal. E que, de certo modo, a ortodoxia (ou seja, o pensamento ou ensinamento reto/correto), compreende-se e valida-se a partir da ‘ortopraxis’ (ou seja, a prática reta/ justa). Definir a identidade do Cristianismo e da Igreja Católica como algo acabado e fechado, para além de negar o mistério da fé, transmite uma imagem de Igreja mais próxima de um museu de conservação de proposições e preceitos, do que de povo de Deus em caminho, a imagem preconizada pelo Concílio Vaticano II.
3. Pluralidade e relativismo
Por último, partindo da referida decisão do Papa Francisco em relação à Igreja africana, que legitima a pluralidade pastoral, parece-nos ainda importante sublinhar que a pluralidade ou o dissenso não se confundem necessariamente com relativismo. Por relativismo entende-se a não existência de critérios válidos para apoiar qualquer afirmação, declarando-se que todas as afirmações são igualmente válidas. Em contraste, se a pluralidade de visões – que pode incluir, em condições muito particulares, a possibilidade de dissenso – estiver radicada e fundamentada na fidelidade à pessoa de Jesus, tal como nos é transmitida pelos Evangelhos e pela Tradição da Igreja, então esta não pode confundir-se com o relativismo. Tal como afirmava Bento XVI, “ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo” (Deus caritas est, 1). Na verdade, se a diversidade na Igreja encontra o seu fundamento numa Verdade absoluta que não é uma ideia, mas uma Pessoa, então cada afirmação e decisão terá sempre que ser validada à luz desta Verdade absoluta mas multiforme, o que permite a pluralidade, mas impede o relativismo.
No contexto atual da Igreja, as vozes dissonantes fazem-se sobretudo ouvir no que diz respeito à moral sexual. Encontramos aqui muitas tensões e conflitos que não podem ser ignorados e onde, por vezes, se confunde pluralidade na reflexão moral com relativismo moral.
No contexto atual da Igreja, as vozes dissonantes fazem-se sobretudo ouvir no que diz respeito à moral sexual. Encontramos aqui muitas tensões e conflitos que não podem ser ignorados e onde, por vezes, se confunde pluralidade na reflexão moral com relativismo moral. Relativamente a estas questões, a estratégia de Francisco seguiu aquilo que é entendido como uma boa prática no âmbito das teorias relacionadas com resolução de conflitos: os desentendimentos não se resolvem ignorando-os, ou fazendo de conta que não existem. Portanto, mostra-se necessária uma abordagem intencional, caso contrário corre-se o risco de polarização das diferentes posições. A este nível foi aberto um espaço para reflexão e discernimento mas que, todavia, ainda não foi concluído. Mais até do que a declaração “Fiducia supplicans” do Dicastério para a Doutrina da Fé (sobre as bênçãos a pessoas em situações ditas irregulares ou em uniões do mesmo sexo), a Exortação Apostólica “Amoris Laetitia” (AL) criou espaço para a possibilidade do exercício da pluralidade pastoral, inclusive em matérias de moral sexual, ao reconhecer que, diante da ambiguidade e complexidade que caracteriza o mundo e as nossas relações, se torna difícil definir uma norma que possa ser aplicada de forma totalitária em todos os contextos e situações particulares, sem que se gerem situações de profunda injustiça. Nestas situações, a Igreja, mais do que impor normas, deve, como refere o próprio Catecismo a respeito da doutrina social da Igreja, propor “princípios para reflexão; fornece[r] critérios para julgamento; da[r] diretrizes para a ação” (cf. CIC, n.º 2423). A este respeito vale a pena reler os números 36 e 37 de AL, onde o Papa Francisco reconhece que o papel da Igreja passa por “formar as consciências e não pretender substituí-las”.
Se queremos uma Igreja verdadeiramente unida na sua pluralidade, parece-nos importante este exercício de atenção e misericórdia diante da complexidade e ambiguidade de situações para, diante das mesmas, nos abrirmos ao discernimento, ou seja, a buscar e encontrar nelas sinais da presença e do amor do Ressuscitado. O reconhecimento desses sinais numa determinada situação, não exclui automaticamente a possibilidade da mesma presença amorosa de Deus numa outra situação relativamente diferente.

Que Igreja, após Francisco?
O princípio Ecclesia semper reformanda não corresponde a uma mera visão ideológica de Igreja, mas uma forma de, por um lado, reconhecer o mistério de Deus e o dinamismo da fé que procura compreender, ainda que de forma incompleta, este mistério e, por outro, sublinhar a conversão incessante a que cada pessoa e a própria Igreja são chamadas. Este espírito de reforma depende, quer de um contínuo retorno às fontes da Igreja, nomeadamente a Sagrada Escritura e a tradição Patrística (o chamado ressourcement), quer de uma abertura à realidade e aos sinais do tempo (aggiornamento). Na tensão entre estes dois movimentos percebe-se que a fidelidade da Igreja à Tradição não passa por uma imitação ou mera conservação do que foi, mas que essa própria fidelidade pode, por vezes, implicar mudanças quer a nível doutrinal, quer nível estrutural, quer a nível pastoral. Na verdade, o princípio de uma Igreja semper reformanda procura salvaguardar o que o teólogo americano, Jaroslav Pelikan, distinguiu muito bem, como a “tradição viva dos mortos,” e não o tradicionalismo de uma “tradição morta dos vivos.”
Francisco deixou-nos uma Igreja descentralizada, mais plural, menos eurocêntrica e com mais protagonismo das Igrejas locais, não por se tratar de uma boa estratégia de gestão, mas pelo facto de estas estarem mais próximas da verdade contida na realidade histórica – que também é lugar da revelação de Deus – e, por isso, mais capazes de discernir os caminhos que melhor aproximam as pessoas da graça de Deus.
O meio que Francisco encontrou para dar corpo a este espírito reformista, mantendo a tensão entre pluralidade e unidade numa lógica de fidelidade criativa, foi a recuperação da sinodalidade. Contudo, como assinala Massimo Faggioli, a experiência sinodal está ainda numa fase inicial, tanto do ponto de vista teórico como na sua capacidade de orientar o modelo de atuação, quer das Igrejas locais, quer da Igreja universal. O próprio Papa percebeu que este caminho de reforma relativo ao modo de estar da Igreja estava ainda numa fase inicial e lançou uma nova fase de acompanhamento e avaliação da implementação do Documento Final do Sínodo, que será concluído em outubro de 2028.
A continuidade da reforma da Igreja em chave sinodal será, parece-nos, uma das grandes responsabilidades do próximo pontificado, mais do que a pretensão do cardeal Müller de uma Igreja forte por afirmar a ortodoxia. Francisco convocou toda a Igreja para este processo de caminho conjunto, de escuta de todos e de toda a realidade, de discernimento e de responsabilização de todos os batizados, enquanto sujeitos ativos de evangelização. Todos somos, portanto, protagonistas e responsáveis na reforma de uma Igreja que se quer una e plural, “capaz de ler e interpretar o Evangelho nas condições reais em que homens e mulheres vivem, nos diversos contextos geográficos, sociais e culturais,” e, acima de tudo, que se apresente como mãe misericordiosa diante de todos, com tudo o que trazem, sobretudo os que mais sofrem e os que se encontram nas periferias do mundo e da Igreja. Uma Igreja que é capaz de caminhar com todos, sempre disposta a descentrar-se de si mesma rumo a Deus e aos irmãos, sem nunca se fechar em si mesma. Uma Igreja que se reconhece, ela mesma, necessitada de perdão e de conversão, que partilha as fragilidades de todos os seus membros e, em última instância, de todo o género humano, sem se sentir superior em relação a ninguém. Por isso, o exercício nunca acabado de aprender a caminhar juntos com todos e com tudo o que trazem para ser colocado na mesa eucarística, será uma missão prioritária para o Papa que será eleito nos próximos dias levar por diante.
* Os jesuítas em Portugal assumem a gestão editorial do Ponto SJ, mas os textos de opinião vinculam apenas os seus autores.