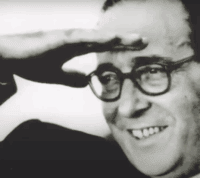Há, de facto, um problema de fundo na Igreja do Ocidente que canonizou a vida consagrada (subdividida em secular e religiosa) e a vida laical como duas formas diferentes de entender a realidade. Aos primeiros é-lhes exigido o celibato, aos segundos corresponde-lhes a vida matrimonial e a procriação. Isto, para já, dito de um modo muito simplificado. Constata-se que a vida de celibato (religiosa e secular) desde há muito que entrou em crise, supostamente relacionada com questões de fé e na ausência de fundamentação para as mesmas. Porém, embora numa etapa histórica mais tardia, verifica-se o mesmo fenómeno para a vida laical no matrimónio. Podemos deduzir que é a vida cristã, no seu todo, e a capacidade de amar que estão em crise.
Nos dois anos do Sínodo dedicado à Família (2014-2015) a Santa Sé debruçou-se nas grandes questões relacionadas com os mais diversos contextos familiares. A Exortação Apostólica Pós-sinodal «Amoris Laetitia» (A Alegria do Amor), resultado dos debates sinodais, detém-se a analisar a importância do amor no matrimónio e na família, face ao mundo contemporâneo. Para explicar o vínculo matrimonial o documento remete-nos para a imagem bíblica de Deus, impressa no ser humano: «Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus; Ele os criou homem e mulher» (Gn 1, 27). Salvaguardando a transcendência de Deus, que não é sexuado nem tem uma companheira, o documento afirma: «a fecundidade do casal humano é “imagem” viva e eficaz, sinal visível do acto criador» (n. 10). E continua: «O casal que ama e gera a vida é a verdadeira “escultura” viva (…) capaz de manifestar Deus criador e salvador. Por isso, o amor fecundo chega a ser o símbolo das realidades íntimas de Deus. (…) a relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade que, em Deus, contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O Deus Trindade é comunhão de amor; e a família, o seu reflexo vivente» (n. 11). O documento pontifício faz ainda referência à Carta de São Paulo aos Efésios, que compara o amor conjugal com a relação esponsal de Jesus Cristo e a sua Igreja – a Esposa. São também assinaladas palavras apaixonadas da mulher do Cântico dos Cânticos, que exprimem o desejo de união com o amado (Ct 2, 16; 6, 3). Referindo-se a esta doação mútua do amado e da amada, conclui: «Deste encontro, que cura a solidão, surge a geração e a família» (n.12-13).
Podemos deduzir que é a vida cristã, no seu todo, e a capacidade de amar que estão em crise.
Sob este prisma, como devemos entender o celibato exigido aos sacerdotes seculares e aos consagrados? Não são também eles imagem de Deus? Não nascem todos no contexto da família? É ainda muito típico na Igreja entender-se o celibato sacerdotal e religioso como privação, segundo a imagem bíblica do eunuco, em função do anúncio do Reino de Deus: «Há eunucos que a si mesmo se fizeram eunucos por amor do Reino do Céu. Quem puder compreender, compreenda» (Mt 19, 12). Estes, parecem viver a existência terrena numa espécie de limbo, na suspensão da sua identidade sexual. Isto exige questionar a formação que os candidatos ao sacerdócio recebem nos seminários diocesanos, porque é aí que são preparados para enfrentarem o mundo secular nas respectivas dioceses e paróquias. Contudo, a subdivisão do celibato católico em secular e religioso cria, efectivamente, um problema à secularidade do clero. Compete-lhes estar no «mundo» numa interação directa com os leigos, ao contrário dos religiosos que são formados no recolhimento espiritual, no silêncio, na relação mais íntima com o amor esponsal-escatológico. Como consequência desta separação, verifica-se um deficiente acompanhamento espiritual dos sacerdotes diocesanos. Muitos apresentam um défice de crescimento da vida interior espiritual. Esta lacuna na formação dos sacerdotes reflecte-se, também, na ausência de formação adequada dos cristãos leigos nas paróquias. Por isso, sem o devido apoio no crescimento espiritual, é fácil que uns e outros sucumbam a uma sociedade e cultura que exige à Igreja o acolhimento, incondicional, das periferias existenciais: a ordenação sacerdotal das mulheres, a aceitação aos sacramentos dos divorciados recasados, das uniões de facto, dos homossexuais, dos grupos LGBTQIA+, etc. É bom sublinhar que estas periferias assumiram protagonismo e configuram a cultura actual. A excessiva centralidade nas questões da sexualidade humana fez descer o Sagrado do seu pedestal, ficando reduzido à condição secular e a uma espiritualidade imanentista. Fala-se de aceitação, mas nunca de conversão. Converter a quê e porquê?
No que se refere à sexualidade humana o escândalo surgiu com a Carta Encíclica do Papa Paulo VI, «Humanae Vitae», de 1968, onde ele apela à prática da castidade e da continência periódica, no matrimónio. Esta prática estaria em função de uma ascese, de uma disciplina, que «requer um esforço contínuo, mas, graças ao seu benéfico influxo, os cônjuges desenvolvem integralmente a sua personalidade enriquecendo-se de valores espirituais» (n. 21-22). Portanto, tratando-se de uma ascese, o apelo à vida de castidade é geral, ou seja, aplicado a todos os cristãos independentemente da sua condição celibatária-religiosa ou secular-laical. Mas o documento foi lido fora do seu devido enquadramento e, por este motivo, rejeitado.
Portanto, tratando-se de uma ascese, o apelo à vida de castidade é geral, ou seja, aplicado a todos os cristãos independentemente da sua condição celibatária-religiosa ou secular-laical.
Mais tarde, após a queda do Muro de Berlim e das convulsões políticas nos países do Leste Europeu, o Papa João Paulo II veio abrir luz à Igreja Católica do Ocidente com a Carta Apostólica «A Luz do Oriente», de 1995. Neste documento afirma que o Monaquismo é o paradigma da vida baptismal, para todos os cristãos, independentemente da sua condição celibatária ou secular. Faz ver a necessidade de uma formação profunda espiritual, assente na grande Tradição da Igreja: «Somente uma zelosa assimilação, na obediência da fé, daquilo que a Igreja chama “Tradição”, permitirá a esta encarnar-se nas diferentes situações e condições histórico-culturais. A tradição não é jamais pura nostalgia de coisas ou formas do passado, ou lamento de privilégiosperdidos, mas memória viva da Esposa mantida eternamente jovem pelo amor que nela habita» (n.8). Este documento transmite-nos uma visão de unidade própria da espiritualidade monástica no primeiro milénio do Cristianismo, que envolvia toda a actividade quotidiana do cristão. O Monaquismo gerou cultura.
Ainda em contexto das convulsões políticas do Leste europeu, João Paulo II dirigiu uma Mensagem aos participantes no Congresso dos católicos leigos da Europa de Leste, realizado em Kiev, na Ucrânia, em outubro de 2003. Consciente das questões políticas do passado abre-lhes horizontes de futuro: «A onerosa herança dos regimes totalitários ateus, que deixaram atrás de si um vazio e profundas feridas infligidas nas consciências (…), no árduo caminho que as vossas nações deverão percorrer para voltar a apropriar-se da sua história e dignidade cultural, vós cristão leigos têm um papel de importância fundamental, em que vós sois insubstituíveis». Nesta mensagem apela à redescoberta da dignidade baptismal dos fiéis leigos e da sua participação activa na missão da Igreja, permitindo, assim, à Europa respirar com os dois pulmões: Oriente e Ocidente.
Só passando das coisas secundarias para as essenciais e, ao mesmo tempo, restaurando a imagem de Deus no ser humano, se poderia criar um clima de unidade cristã na Europa.
Esta visão de uma Europa unida através de uma espiritualidade comum, o Monaquismo, foi defendida alguns anos mais tarde, em 2008, pelo Papa Bento XVI, no encontro com o mundo da cultura, em Paris. Reunidos no Collège des Bernardins, dirigiu o seu discurso a homens da política, aos governantes e ministros, à Ministra da Cultura, a representantes da Unesco, aos representantes da comunidade muçulmana francesa, ao Prefeito de Paris, ao Príncipe de Broglie, ao Chanceler do Institut de France, ao Senhor Cardeal ali presente e aos demais participantes. Neste contexto, recordou a todos quais eram as raízes da cultura europeia e da teologia ocidental, ambas assentes no Monaquismo, que surgiu no momento histórico de uma grande viragem cultural.
No seu discurso afirmou, que «os mosteiros eram os lugares onde sobreviviam os tesouros da velha cultura e onde, a partir dos mesmos, se vinha formando gradualmente uma nova cultura». Só passando das coisas secundarias para as essenciais e, ao mesmo tempo, restaurando a imagem de Deus no ser humano, se poderia criar um clima de unidade cristã na Europa. Referindo-se a uma meditação de S. Bernardo de Claraval, baseada no testemunho da conversão de Santo Agostinho (cf. Confissões, cap. VII 10.16), mostra como o afastamento de Deus desfigura a natureza humana: «o homem, que é criado à semelhança de Deus, em consequência do seu abandono de Deus precipita-se na “zona da dessemelhança” – num afastamento de Deus tal que já não O reflecte mais, tornando-se assim dessemelhante não apenas de Deus, mas também de si próprio, do verdadeiro ser homem». No seu discurso, Bento XVI oferece-nos uma perspectiva ampla do que significa ser imagem de Deus; ela só pode ser encontrada saindo da zona de dessemelhança. Ou seja, pela conversão, unificando a condição terrena com o fim último e escatológico, em Deus. Por se tratar de um caminho de aperfeiçoamento humano não faz sentido diferenciar a vida secular da vida religiosa, que deve ser entendida e partilhada como um todo.
No contexto actual da Europa e do mundo vale a pena reflectir, de novo, no Discurso de Papa Bento XVI, em Paris, e que está na base da Reforma da Igreja conduzida agora por Francisco. Aproximamo-nos do Ano Santo 2025, que celebra os 1.700 anos do I Concílio de Niceia, em 325, onde os Padres da Igreja debateram as grandes questões cristológicas e trinitárias, contra as heresias que surgiram nos primeiros séculos da era cristã. O Jubileu de 2025 será um refrescamento da sólida Tradição da Igreja. Permite entender melhor a consolidação da Reforma através da renovação cultural e espiritual monástica, aberta ao mundo, face à actual cultura secularizada instalada na zona da dessemelhança.
* Os jesuítas em Portugal assumem a gestão editorial do Ponto SJ, mas os textos de opinião vinculam apenas os seus autores.